
Da cadeira 33 da ABL ao STF – por que a representatividade da mulher negra transforma o país
TEXtO: BIANCA FELIPPSEN
ARTE: DIOGO BRAGA
Uma porta se abre em 2025. Cento e vinte e oito anos depois. No próximo dia 7 de novembro, a escritora mineira Ana Maria Gonçalves será a primeira mulher negra a adentrar, pela porta da frente, o salão dos imortais da Academia Brasileira de Letras. Ela assume a cadeira 33 após receber 30 dos 31 votos possíveis, em eleição realizada em julho. Autora de Um defeito de cor, romance de mais de mil páginas sobre a história negra do Brasil e que retrata ficcionalmente a vida de Luísa Mahin, mãe do advogado Luiz Gama, Ana Maria inaugura um capítulo que transcende o campo literário e ressignifica o lugar das mulheres negras na memória do país.
Ao falar sobre sua eleição, Ana Maria Gonçalves refletiu sobre o significado histórico do momento. “O Brasil de hoje, onde sou eleita para a Academia Brasileira de Letras, a 13ª mulher e a primeira mulher negra, é um Brasil que está começando a entender que, ao acessar esses lugares, a gente chega para ampliar. Não é para tirar direitos de ninguém. Não é para substituir e nem roubar vaga. É para ampliar e colaborar na construção de um país mais digno, mais interessante e mais importante para todo mundo”, disse a escritora ao podcast O Assunto. “Eu espero que meu ingresso ali dentro venha da necessidade de abrir portas”.
O debate é mais que genuíno. Estamos começando o Novembro Negro e os movimentos sociais e personalidades ainda pressionam nas redes sociais o presidente da Republica, Luís Inácio Lula da Silva, por uma representatividade maior também no Supremo Tribunal Federal. Em 134 anos de existência, o STF nunca teve uma ministra negra.
Mas, afinal, por que isso importa? Toda a história do Brasil ajuda a dimensionar o abismo deste atraso. A começar pela cultura. A primeira mulher eleita para a ABL, em 1977, foi a escritora cearense Rachel de Queiroz, autora de O Quinze. Quase meio século separa aquela conquista da chegada de uma mulher negra à Academia. A distância entre esses marcos expõe a lentidão das instituições e da sociedade brasileira como um todo para reconhecer mulheres negras como produtoras e guardiãs de conhecimento, cultura, políticas e direitos.
Para a jornalista e doutora em Literatura pela UnB, Edma de Góis, a chegada da autora hoje, lembra a tentativa de outra escritora negra, Conceição Evaristo, em 2018, na disputa pela vaga. À época, a jornalista escreveu ao periódico El Pais Brasil imaginando a chegada dela ladeada pelas autoras Maria Firmino dos Reis e Carolina Maria de Jesus, precursoras da escrita feminina negra. “A autoria negra não espera ser celebrada apenas em edições temáticas de feiras literárias, muito menos disputa cota quando se é maioria no cerne da questão. Espera-se muito mais que isso. Porque Conceição e tantas escritoras negras não são feitas de matéria passageira, mas de percurso espinhoso, que inclui problemas estruturais e sistêmicos, racismo institucional em meio a resistência”, escreveu.
Para ela, “é um feito histórico para a literatura brasileira e de forma mais ampla para mulheres negras, cujo lugar da escrita não foi dado como natural, uma vez que jamais está dissociado do poder e, em uma sociedade como a brasileira, a recusa branca à concessão de privilégios é uma pauta permanente”.
Um olhar pro sistema inteiro
A discussão não para na seara da cultura. Já alguns dias, campanhas intensas nas redes mostram que a ausência de mulheres alcança também o Judiciário. Em mais de um século de Supremo, houve apenas três ministras mulheres, todas brancas: Ellen Gracie (nomeada em 2000 e aposentada em 2011), Rosa Weber (aposentada em 2023 após 12 anos na Corte) e Cármen Lúcia, atualmente a única mulher entre os 11 ministros. Nunca houve uma ministra negra. O dado, repetido por estudos, reportagens e manifestos públicos, sustenta a atual onda de mobilização por uma indicação negra feminina. A pergunta, portanto, não é por que precisamos de uma mulher negra, mas por que ainda não.
A ausência de mulheres negras em espaços de poder não é apenas uma lacuna estatística. É uma ausência que se traduz em decisões menos sensíveis às realidades da maioria da população, basta observar como políticas sobre violência policial, saúde reprodutiva e moradia seguem sendo decididas sem a presença dessas vozes. E, quando as vozes que vivenciam o racismo estrutural não estão à mesa, o olhar sobre a justiça se estreita.
“Não se trata de uma cortesia simbólica. Trata-se de pluralidade decisória em temas transversais na vida de mulheres negras, como controle da letalidade policial, violações de direitos, políticas de ação afirmativa, proteção a crenças de matriz africana, além de questões sobre pensão, saúde, território, gênero e raça. Afinal, quem está na base das nossas desigualdades sociais?”, lembra o subdefensor público geral do Ceará, Leandro Bessa, que preside o Comitê de Igualdade Etnico-Racial da Defensoria Pública do Ceará, criado há pouco mais de um ano para debater o tema dentro da instituição.
A presença de mulheres negras fala, inclusive, de algo maior que o equilíbrio entre raça e gênero. “Representatividade não substitui política pública, mas pode amplificar vozes diversas nos espaços de poder. Quando o panteão muda, o cardápio de referências muda. Isso significa que instituições como a Defensoria, o Judiciário, as universidades, a ABL e o STF não vivem isoladas. Elas refletem o tempo em que estão. Quando a sociedade muda suas referências, essas instituições precisam se reconfigurar e isso revela uma transformação profunda na forma como o país se enxerga e se reconhece”, disse.
ABL e STF refletem um mesmo país: o que durante séculos definiu quem tem o direito de narrar e quem deve apenas ser narrado, quem pode falar e quem deve apenas ser julgado. Por isso, a presença de mulheres negras nesses espaços é mais que reparação, é redistribuição simbólica de poder.
Esse debate não se restringe. Ele perpassa também as instituições que lidam, cotidianamente, com a desigualdade, as mesmas desigualdades que combatem. A Defensoria Pública, cuja missão é democratizar o acesso à Justiça, precisa enfrentar dentro de si os mesmos desafios que enfrenta nas ruas. O retrato nacional da instituição também aponta desigualdade. Dados da Pesquisa Nacional das Defensorias Públicas de 2025 indicam que pessoas negras representam pouco mais de 22% das defensoras e defensores públicos do país, embora os negros constituam mais da metade da população brasileira (55,5% segundo IBGE 2022).
 Em seu discurso de posse, a nova defensora pública do Ceará, Fernanda Poeys de Carvalho, 11ª cotista a ingressar na instituição, destacou essa disparidade. Ela ingressou por meio do primeiro concurso da Defensoria com vagas reservadas para pessoas negras e indígenas, a partir de uma política de cotas instituída por lei em 2021 (A Lei LC 252/2021 institui “política pública social e afirmativa consistente na reserva de vagas para candidatos negros, quilombolas e indígenas em concursos públicos e processos seletivos no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Ceará”.)
Em seu discurso de posse, a nova defensora pública do Ceará, Fernanda Poeys de Carvalho, 11ª cotista a ingressar na instituição, destacou essa disparidade. Ela ingressou por meio do primeiro concurso da Defensoria com vagas reservadas para pessoas negras e indígenas, a partir de uma política de cotas instituída por lei em 2021 (A Lei LC 252/2021 institui “política pública social e afirmativa consistente na reserva de vagas para candidatos negros, quilombolas e indígenas em concursos públicos e processos seletivos no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Ceará”.)
“Essa discrepância evidencia a persistente desigualdade racial que estrutura o sistema de justiça. Nesse contexto, a política de cotas se consolida como a principal política pública de promoção e reparação histórica frente às mazelas da escravização. Ela possibilita que, em um país de baixíssima mobilidade social, o acesso à educação, à formação e aos cargos públicos se torne uma ferramenta real de busca por equidade racial, democratizando espaços dos quais fomos sistematicamente excluídos”, afirmou Fernanda.
Segundo ela, “não há justiça verdadeira sem igualdade racial e sem igualdade de gênero”. E completou: “Isso só será possível a partir de uma Defensoria que reflita, em seu interior, a sociedade à qual deve servir, encampando de forma inegociável a luta antirracista e assegurando pluralidade de corpos, ideias, saberes e afetos.”
 Da literatura à justiça, a presença de mulheres negras em espaços de poder reconstitui o pacto democrático em bases de igualdade. Para a defensora pública Suian Lopes, titular na comarca de Tianguá e integrante do primeiro comitê da Defensoria voltado ao debate sobre gênero e raça, a interseccionalidade é um ponto de inflexão para o avanço social.
Da literatura à justiça, a presença de mulheres negras em espaços de poder reconstitui o pacto democrático em bases de igualdade. Para a defensora pública Suian Lopes, titular na comarca de Tianguá e integrante do primeiro comitê da Defensoria voltado ao debate sobre gênero e raça, a interseccionalidade é um ponto de inflexão para o avanço social.
A defensora se identifica como parda, portanto uma mulher negra, e reflete sobre os desafios enfrentados dentro da própria instituição. “Meu primeiro desafio foi reconhecer essa negritude e entender o que é ser negra no Brasil. Ingressar na Defensoria Pública pelas cotas raciais trouxe comigo o compromisso de lutar pela causa e de atuar com um olhar racializado sobre cada caso. A representatividade importa, mas só tem valor se vier acompanhada de compromisso com a pauta antirracista.”
Para Suian, esse olhar é determinante para toda a sociedade. “O grande desafio é transformar a diversidade em prática cotidiana. E isso só acontece com letramento racial. O racismo é sistêmico e está presente nas nossas relações, na forma como olhamos para os casos e decidimos sobre eles. Ele se manifesta com força nas áreas da saúde e da segurança pública, quando vemos quem tem acesso e quem é negado, quem vive e quem morre. Reconhecer que a Defensoria é atravessada por esse racismo não é dizer que a instituição é racista, mas que ela precisa olhar para dentro, identificar os marcadores de desigualdade e superá-los.”
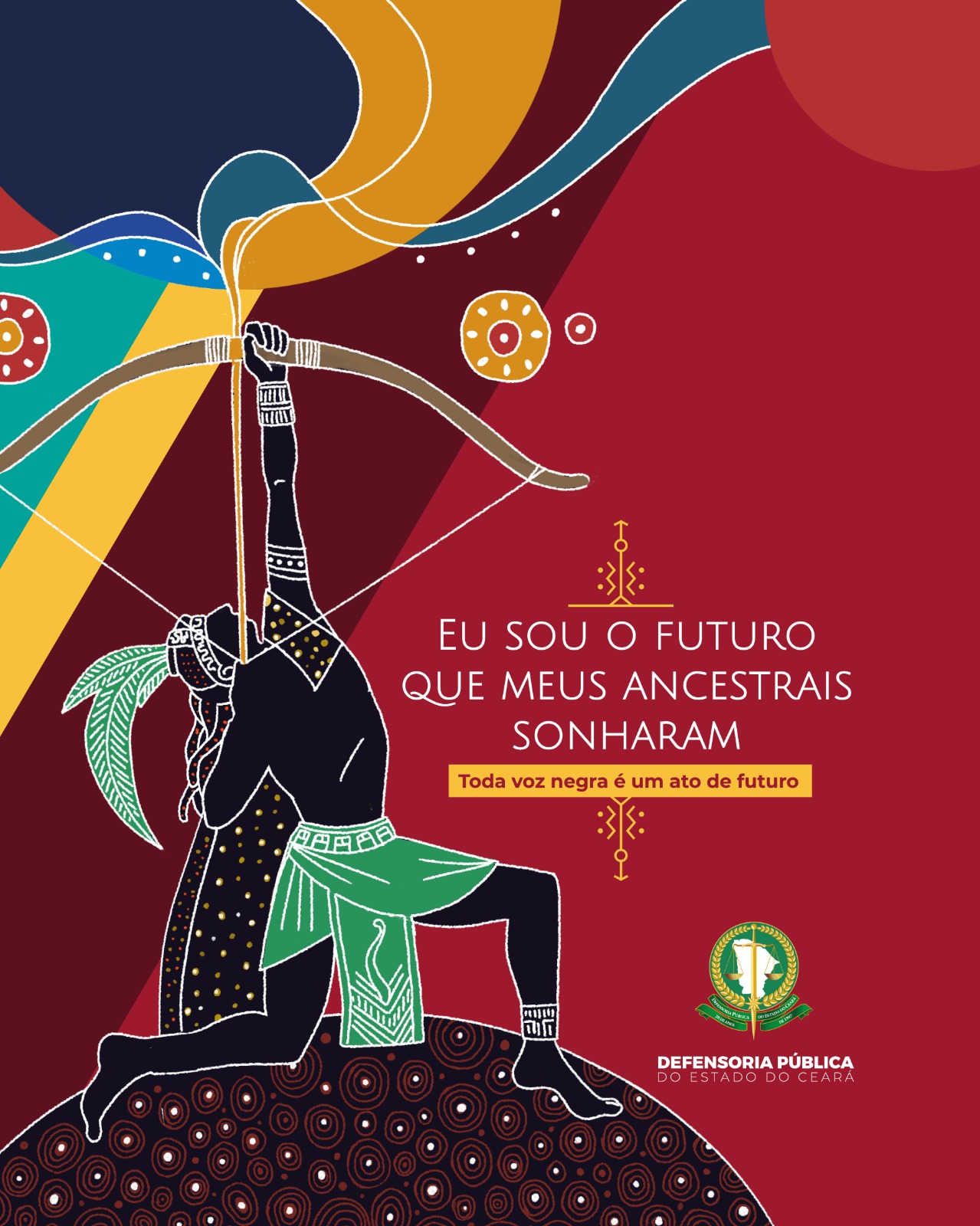
Novembro Negro – A Defensoria Pública abre o Novembro Negro com a campanha “Eu sou o futuro que meus ancestrais sonharam”, reafirmando que o primeiro passo é reconhecer o próprio orgulho e, a partir dele, transformar-se nas referências de quem toma decisões, escreve leis e interpreta a história. Durante este mês, você acompanha aqui reportagens sobre o avanço da pautas de igualdade racial e de direitos.
O Novembro Negro é um chamado para garantir que as portas abertas não voltem a se fechar.

