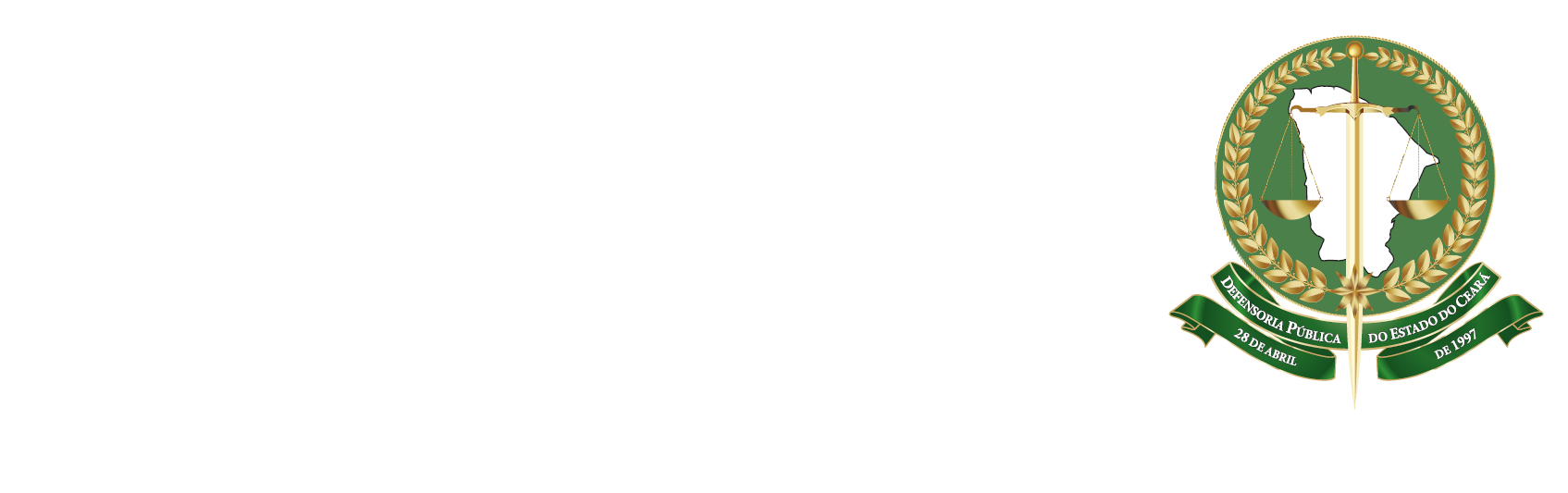A intelectualidade negra vem do chão da vida!
Vem do chão da vida o desejo do povo negro de contar a própria história. De falar de si, por si e para si. Mas também do outro, sobre o outro e para o outro. De ocupar o lugar de quem pensa e não apenas de quem é estudado. De ser protagonista do que vive, em vez de atravessar eternidades aprisionado em estereótipos que só perpetuam desigualdades.
Livre da escravidão há pouco mais de 130 anos, o povo negro brasileiro resiste. Reexiste. Porque sempre entendeu ser mais, para além da virilidade, da malandragem, da violência e da hipersexualidade que lhe atribuem. Tem se empoderado das próprias potências para ser inteiro. Reivindica este lugar, de gente que produz conhecimento. E não só em espaços formais.
“Até a minha adolescência, eu só ouvi o lado da história dos brancos porque a história sempre é contada pra nós por pessoas brancas. Quando me entendi enquanto agente social foi que passei a buscar outras referências e enxerguei a perspectiva do povo negro. Com certeza, se não fosse a educação, meu destino teria sido outro. Na Paupina [periferia de Fortaleza] daquela época, ou você ia trabalhar em fábrica ou ia ser cobrador. Você é empurrado pro subemprego. Como jovem negro, jamais me imaginei fazendo um curso de Direito”, recorda oouvidor geral externo da Defensoria Pública do Ceará (DPCE), Alysson Frota.
Hoje advogado e cursando mestrado em Direito Constitucional, ele dá continuidade ao legado intelectual das três mulheres negras que o antecederam no cargo. Cada uma oriunda de um movimento social e dona de uma expertise muito própria para estabelecer diálogos com entidades cujos públicos são majoritariamente pessoas negras em situação de vulnerabilidade. Desde que foi criada, a Ouvidoria Geral Externa da DPCE só foi gerida por pessoas negras.

Filho de família interracial, Alysson é hoje o primeiro contato de muita gente negra com a Defensoria. É a chance de essas pessoas de alguma forma enxergarem um pouco de si num espaço institucional. “Eu saí das estatísticas, mas perdi muitos amigos pra morte ou pra drogadicção. Passei cinco anos e meio na faculdade e não tive nenhum professor negro. Agora, na minha turma de mestrado, sou o único negro. É como se a intelectualidade não fosse pra gente. Mas é! Nós precisamos que outras pessoas ocupem esses espaços, porque eles não existem só para pessoas brancas. Ter negros produzindo conhecimento é uma reparação que o Estado tem que fazer.”
Para a professora Vera Rodrigues, evidenciar a intelectualidade negra é promover uma reviravolta nos registros históricos oficiais da humanidade. Nas palavras da doutora em Antropologia, “é uma resposta à estrutura racista que insiste em nos negar, mas também é uma resposta afetiva para nós, negros e negras, porque o papel da intelectualidade sempre nos foi negado.”
Em sala de aula, ela testemunha diariamente estudantes conhecendo a própria história. E renascendo a partir dela. Gente negra descobrindo que é, na verdade, descendente de reis e rainhas de África, como somos todos, e não apenas de homens e mulheres escravizados/as e trazidos/as à força, como mercadoria, para um continente diferente do seu. Alunos e alunas que veem potência em si e tentam levar isso adiante, para quem ainda tem uma venda nos olhos.
“É bonito ver o brilho nos olhos de quem redescobre o valor da própria trajetória e como isso desperta a autoestima. Eu vejo isso como um movimento contrarrevolucionário! Porque estamos nos apropriando de algo que sempre foi nosso, mas nos disseram que não era. A intelectualidade resgata algo valioso pra nós, enquanto sujeitos, e pra sociedade como um todo, na medida em que a gente começa a intervir e a produzir algo mais propenso a um diálogo com os nossos. Isso pode reverberar em um jovem que está em casa e sonha em ser alguém de sucesso e não sabe se consegue. A intelectualidade negra nos coloca na centralidade da vivência enquanto sujeitos, coisa que sempre foi imposta à margem”, frisa Vera Rodrigues.
Ela alerta, no entanto, que essa centralidade não implica em ser um intelectual cuja produção dá-se em torno de si. Porque trajetória se faz de duas maneiras: caminhando e em coletividade. Como prega a filosofia Ubuntu, africana: “eu sou porque nós somos”. Meu fazer, portanto, precisa ecoar. No outro. Entre os meus. No mundo. Pro mundo. Para o mundo. Pelo mundo.


Mulher negra e gaúcha, onde a população negra é minoria estatística (diferente do Brasil como um todo, no qual é 56%), Vera viu no chão dos movimentos negros um meio de transformação pela intelectualidade dentro da universidade. “Eu esperei tanto tempo pra viver de forma mais cotidiana histórias compartilhadas com os meus e as minhas! Isso é a dinâmica do afeto. Se dizia que negro que ia pra universidade se embranquecia. Achavam que estávamos abandonando a luta. Mas eu gostava de escrever, de ler, de falar. E as pessoas começaram a reconhecer em mim uma potencialidade. A universidade nunca foi pra mim um espaço que eu achasse que não fosse meu. Eu achava muito desaforo quererem me colocar pra fora. A raiva que isso me dava me impulsionou.”

Uma ressignificação que também floresceu na cientista social Lorrayne Santos, cujo autodescobrimento intelectual é recente. Data de cerca de três anos. O ingresso na universidade, antes disso, deu-se para integrar uma militância. A transformação maior que a jovem almejava era a social. Estudando, nos tais processos formais da educação, mas também ocupando a rua. “Fiz parte de movimentos nos quais as pessoas liam muito. Militei com grandes intelectuais, mas minha primeira referência foi da minha mãe, uma mulher negra como eu. As pessoas sempre me diziam que minha pesquisa [sobre emprego doméstico pela perspectiva racial] não ia dar certo. Falavam que não era ciência. Ao mesmo tempo, a universidade não nos dá as referências que a gente gostaria. Elas são silenciadas pelo epistemicídio. Conhecer essas referências me mostra que é possível ser intelectual negra e compreender que o que faço é, sim, ciência”, sintetiza.
O futuro intelectual ela ainda não sabe se vai viver dentro do espaço formal da academia. Porque entende ser possível uma produção de conhecimento fora dos muros universitários, no chão da vida, onde a transativista Dediane Souza começou a caminhar ainda adolescente. Travesti, preta e filha do sertão, a mestranda em Antropologia tem formação política nos movimentos sociais LGBTQIAP+, com os quais a Defensoria dialoga permanentemente.
“Meu ativismo no Grab [Grupo Resistência Asa Branca] me fez perceber que o que a gente fazia era produção intelectual, na sistematização dos projetos com as comunidades, nas ações de resposta à epidemia de aids ou com jovens. Foram vários os livros publicados! Então, eu me percebo intelectual muito antes da universidade. Porque a produção intelectual está em todos os espaços. É a produção de epistemologia. É a produção de saber. E o movimento LGBTQIAP+ produziu muito saber.”
Com pai negro e mãe negra, Dediane é a única dos seis filhos com ensino superior. A única também, portanto, em um programa de pós-graduação. Teve, como ainda tem, que se afirmar no ambiente acadêmico por ser esse um lugar ainda frequentado majoritariamente por pessoas brancas e de classe média. Em mestrados e doutorados, negros são apenas 25% dos alunos.
A graduação, Dediane cursou em instituição particular. Um espaço despreparado para uma travesti preta. “Na primeira semana, o diretor me chamou e pediu para eu não usar o banheiro. Foi quando eu entendi o quanto era importante meu corpo estar naquele espaço”. Já o mestrado, numa universidade pública federal, ela acessou, após uma seleção super concorrida, por política de cotas, outra luta histórica dos movimentos negros e cuja ressonância também se dá nas seleções para os quadros da Defensoria.

“A academia é um campo no qual várias questões ainda precisam ser ditas sobre travestilidades, o povo negro… Então, quando eu vou pra esse espaço, eu vou com o compromisso de ecoar as vozes de pessoas que, de alguma forma, têm esse poder de intelectualidade e não estão lá. Quando eu, uma travesti preta, acesso um mestrado para fazer uma pesquisa sobre travestis, não se trata só de uma travesti no mestrado, mas de um legado. Tem muita gente por trás dessa minha vitória. E eu tenho o compromisso de devolver esse conhecimento pra minha comunidade. A universidade é pra gente acessar a teoria, porque a gente tem conhecimento empírico pra quatro ou cinco doutorados. E isso vem do chão da ONG, da luta do cotidiano. A formalidade da academia é importante, mas a gente se constrói de outras formas. Eu já era uma intelectual muito antes.”
A série Afrofuturo: por uma consciência negra continua na próxima segunda-feira (22/11), aqui no site da Defensoria, e vai pautar a importância da ancestralidade para o povo negro. Não perca!
Confira as matérias do especial:
Por mais negros e negras em espaços de poder!
Assegurar direitos é empoderar o povo negro!
Sobre redescobrir a beleza negra em si!
A intelectualidade negra vem do chão da vida!